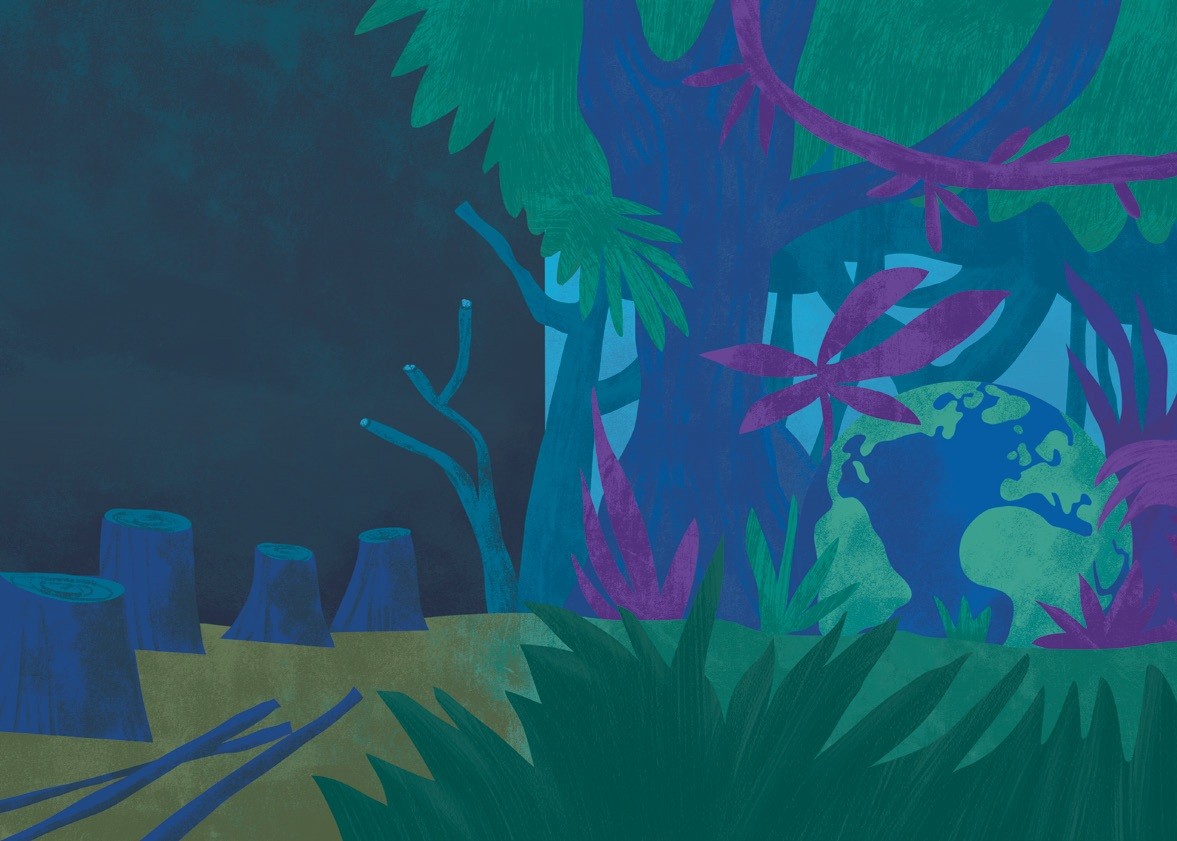
Negociações de clima são cada vez menos sobre corte de emissões de carbono e cada vez mais sobre recursos, tecnologias e regras que definirão o século XXI. O desenvolvimento do mundo, sua acumulação de capital e o crescimento econômico dos países se deram a partir de uma disputa com a natureza. Essa lógica relegou papéis distintos aos países, com uma divisão social do trabalho produtora de papéis também distintos. Ao Norte do mundo, sua realização se deu essencialmente pela capacidade de transformação de matéria-prima em trabalho, por meio da tecnologia. Aos países do hoje chamado Sul Global, ocupantes de uma posição menos nobre e sem a detenção dessas tecnologias, coube o papel de dar suporte ao projeto de poder dos países do Norte, a partir do fornecimento de commodities e mão de obra.
Foi tendo essa divisão como pano de fundo que as negociações sobre clima se deram, a partir do acúmulo de conhecimento da ciência sobre a ligação entre aquecimento do mundo e queima de combustíveis fósseis. De lá para cá, a capacidade do mundo de encontrar caminhos e soluções para os dilemas conjuntos – do clima ao comércio internacional – nos deu esperança de que não só a trajetória seria irreversível, como seria orientada essencialmente por uma consciência progressiva, no caso do clima, sobre os danos potenciais do acúmulo do carbono na atmosfera, com papel educativo dos eventos extremos como elemento disciplinador do comportamento humano.
O Acordo de Paris, concertado em 2015 e elemento-chave do regime climático global, apontou uma meta de aumento seguro da temperatura do planeta de 1,5 °C e convocou todos a mantê-la abaixo de 2 °C, se comparado aos níveis pré-industriais. Dez anos depois, a ciência já sabe que a temperatura de 1,5 °C será excedida, permanecendo pouco clara a sua intensidade e duração, que dependem basicamente da nossa capacidade de retirar carbono da atmosfera. A constatação, no entanto, não deve minimizar o impacto e a importância do Acordo: o cenário seria muito pior sem as ações dele advindas e para o qual se estima um aumento da temperatura de 3 °C. Nesse sentido, duas características foram essenciais para a sua consecução: o reconhecimento de que, independentemente do passado e do futuro, todos os signatários tinham responsabilidade legalmente vinculante perante o problema e, ainda, que confiavam que os pares dariam contribuições regulares e periódicas para sua mitigação.
Dez anos depois, tudo mudou. De um lado, deteriorou-se a confiança internacional, traduzida na fragilização das democracias, na paralisia das decisões sobre comércio, no surgimento de barreiras tarifárias e não tarifárias e no crescimento de conflitos e guerras para os quais a comunidade internacional tem sido incapaz de oferecer respostas.
Adicionalmente, o Ocidente enfrenta o fim de sua hegemonia, a guerra da Ucrânia colapsou a visão de um mundo unipolar pós-Guerra Fria e está em curso uma nova divisão do mundo entre Estados Unidos, China, Rússia, Índia e União Europeia. Essa fragmentação tem dado lugar a novas alianças e coalizões, com países se agrupando a partir de interesses semelhantes.
Ao mesmo tempo, a conversa sobre transição energética, que convenientemente mascara a extensão da dependência de petróleo para a produção de energia, deixou de ser sobre meio ambiente e passou a ser sobre segurança nacional, com a exposição da economia da Alemanha na dependência do gás russo como indicador disso.
Por sua vez, a arquitetura do regime internacional de clima se mostra hoje insuficiente. Os mecanismos de compensação de emissões, tais como o sequestro de carbono, projetados para acertadamente dar tempo aos países de providenciarem suas respectivas transições econômicas, compraram tempo, mas não vieram acompanhados de estímulos capazes de mexer na estrutura de poder do mundo, cuja economia segue baseada em um padrão extrativista incompatível com os limites do planeta.
A lógica acabou gerando uma licença para continuar emitindo, reforçando o papel histórico da conhecida divisão social: países desenvolvidos continuam transformando matéria-prima em trabalho às custas do clima e do planeta, e os em desenvolvimento reassumem o papel de suporte político às suas ambições e economias, sendo responsáveis pelo sequestro de carbono às custas de seu próprio desenvolvimento, protagonizando um novo tipo de colonialismo, agora pretensamente verde.
Adicionalmente, o regime ignora duas realidades. Primeiramente, a de que um mundo com menos emissões de gases de efeito estufa ainda pode ser ecologicamente ruim. Perda de biodiversidade, aquecimento e acidificação dos oceanos e crise hídrica não deveriam ser tratados como problemas menores se comparados à emissão de gases de efeito estufa. A segunda, de que a disputa pelo poder produziria novas corridas e disputas, agora por recursos críticos para a transição, com isso provocando novas dependências. As soluções para o clima hoje – dos painéis solares à eletrificação – são intensivas em tecnologia e em recursos naturais e novos materiais. O mundo com menos carbono não é, necessariamente, um mundo mais gentil com a natureza, e não há nada no horizonte a apontar que nele a natureza será uma aliada do desenvolvimento e não uma adversária a ser superada.
Diante disso, duas perguntas essenciais se colam ao Brasil, especialmente no ano em que o país recebe a principal Conferência do Clima (COP), em sua 30ª edição: o que fazer? E que papel podemos desempenhar na construção de novas soluções e de novos arranjos de cooperação? Aqui, vislumbram-se essencialmente três oportunidades de liderança.
Primeiramente, a formação de “novos clubes”, buscando atrair países com características assemelhadas e com interesses convergentes. Essas novas alianças podem se dar a partir dos países megabiodiversos, reunidos em bloco para negociar, de forma coletiva, regras para a economia de base natural e para serviços ecossistêmicos em frentes como comércio e financiamento. Se recursos naturais são fundamentais para a transição econômica do mundo, é justo que os países que detêm esses ativos sejam os principais porta-vozes sobre como querem dispor deles, imprimindo decisões sobre o ritmo e seus preços.
Em segundo lugar, o exercício da liderança para a financeirização da natureza. Se o ouro e o dólar serviram para lastrear as transações da economia até aqui, uma nova economia exige novos lastros, que podem vir da monetização da natureza e da valoração do capital natural, indo além do carbono e incorporando, entre outros, biodiversidade, disponibilidade hídrica e benefícios às populações.
Por último, considerar a importância estratégica da agropecuária para o país e da agricultura tropical para a segurança alimentar do mundo, a proposição de novas metodologias e a tropicalização das métricas que organizam o regime de clima, em particular acerca da mensuração de emissões de metano e do sequestro de carbono, seria dar um passo importante para limitar o fim da visão, pretensamente hegemônica, sobre o que é sustentável.
Esta edição da CEBRI-Revista, dedicada especialmente à agenda do clima e à COP 30, apresenta diferentes perspectivas que buscam colaborar no apontamento de diagnósticos e soluções para esses e outros desafios da agenda climática, que vão da transição de combustíveis fósseis aos contrapúblicos que demandam maior protagonismo em seu processo de decisão.
Ao apontar particularmente a discussão que emerge no mundo sobre novos materiais e também a proposição de novos conceitos como land and resource transition, à semelhança do que o mundo cunhou para a transição energética, agora aplicada às novas disputas, às novas dependências que se despontam e aos recursos que estão no centro do poder geopolítico nos próximos anos, esta edição dialoga estreitamente com os trabalhos recentes desenvolvidos pelo Programa de Transição Climática e Sustentabilidade do do CEBRI, que, para 2026, terão na sua centralidade o lançamento de uma plataforma global para aproximar think tanks, iniciativas de filantropia, o setor privado e pesquisadores para imaginar soluções e prover caminhos relacionados ao clima e à natureza, ampliando a colaboração entre setor público e privado. Tratam-se, assim, de contribuições substantivas do CEBRI – um rethink tank – para que possamos, juntos, rethink the world.
Boa leitura.
Copyright © 2025 CEBRI-Revista. Este é um artigo em acesso aberto distribuído nos termos da Licença de Atribuição Creative Commons, que permite o uso irrestrito, a distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que o artigo original seja devidamente citado.